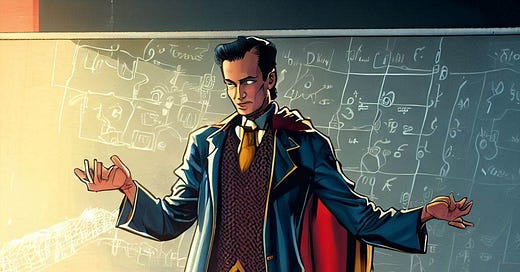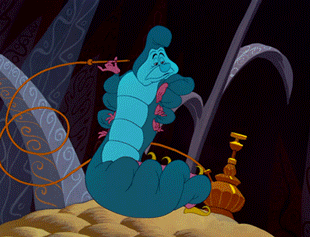#9 | Todo professor tem um quê de Dr. Estranho
"Minha própria vitamina de dor e alegria escolares batida no liquidificador da maturidade é minha estratégia pessoal de não perder de vista a empatia"
“Sempre que olho para cada um de vocês”, eu digo olhando nos vários olhos que me encaram, “não vejo apenas o hoje”. Ficam ligeiramente confusos. “Meu papel é olhar para todas as possíveis versões que vocês podem desenvolver ao longo de três anos de ensino médio, a partir das escolhas e dos resultados que conseguem dia após dia”. O clima é relativamente tenso. “Todo professor tem um pouco de Dr. Estranho”. Eles riem. Não é exagero. Nem é tão determinista quanto parece. Escrevendo sobre isso agora me lembro de quando amigas alfabetizadoras traçavam hipóteses sobre seus alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, como se fosse possível ver seus futuros a cada “tia” que eles dirigiam a elas tal como quem vê o que virá transmitido em alta resolução na borra do café ou nas linhas da mão esquerda. A docência parece mesmo ter esse aspecto divinatório. A educação básica parece ter.
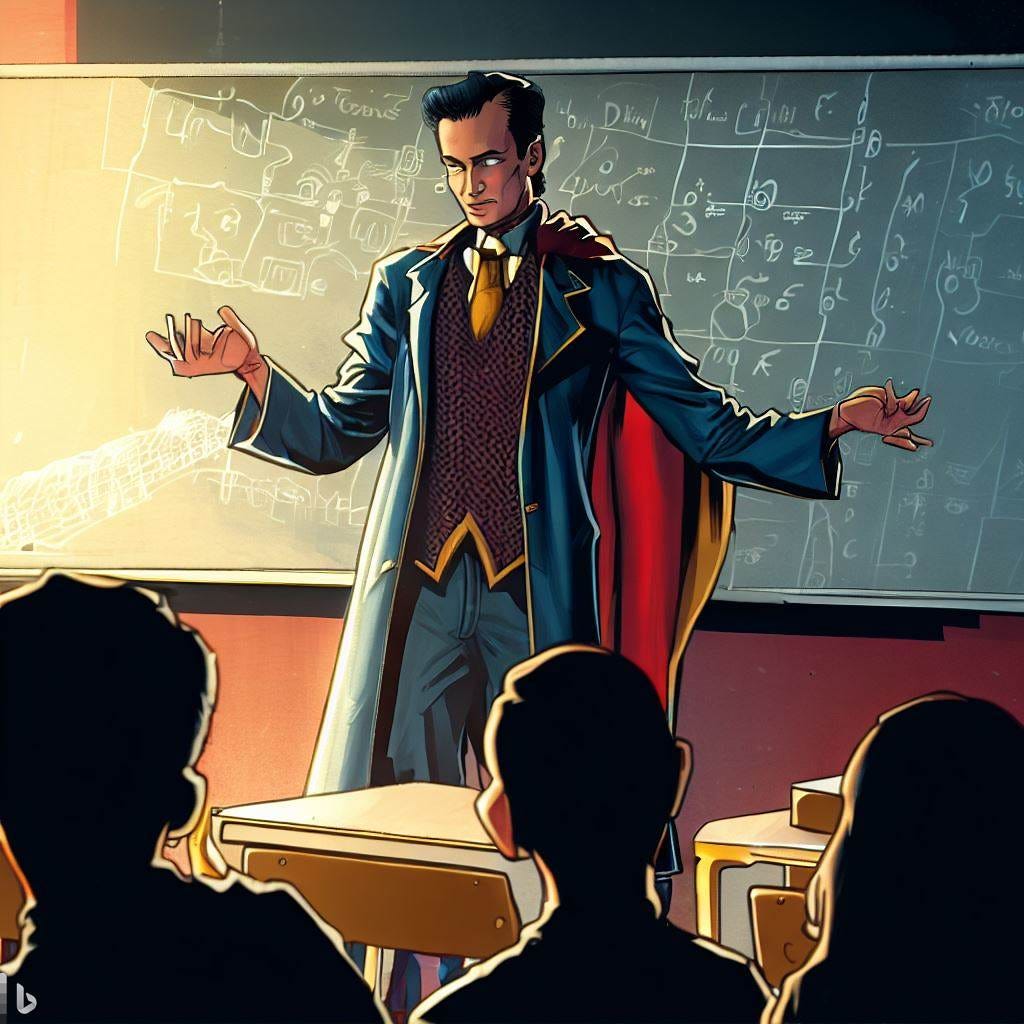
Perfurar a tensão no momento certo, inclusive, sempre foi uma das habilidades que mais admirei nos meus professores preferidos. Aqueles que conseguiam construir a tensão estrategicamente, aos poucos, como se estivesse magnetizando toda a turma, conduzindo uma multidão de adolescentes a um lugar de silêncio e apreensiva concentração. A coluna ereta, a voz levada ao fundo da garganta para uma gravidade palpável, o queixo sutilmente erguido. E olhar, claro! O olhar de quem demanda disciplina. O silêncio que vai pairando desde as fileiras da frente até bater na parede dos fundos da sala de aula, como uma onda que pega de surpresa e suspende a respiração. As primeiras palavras, quase sempre clichês. A escola tem muitos quês de behaviorismo e isso fica notório quando as turmas parecem treinadas para momentos como esse, momentos de sermões. A resposta aparentemente automática reflete os vários anos de expectativas pré-moldadas, de procedimentos instintivamente absorvidos.
Até que o professor quebra a expectativa geral de que um momento de bronca é apenas um momento de bronca. Surge uma referência à cultura pop ou a alguma piada interna que só ele e a sala compartilham. De repente, por segundos que sejam, eles são cúmplices tendo um rápido realinhamento de papéis. Surge um riso contido, aquela piscadinha de olho que o humor permite, até a rápida recuperação do tom de tensão. Esse equilíbrio sofisticado, inteligente, astuto. Essa habilidade de fazer um momento tão instintivo ser inédito, precisamente imprevisível. Eu sempre admirei e, sempre que me imaginei em sala de aula, me perguntei se também conseguiria. Tenho conseguido. Tenho aprendido que o sermão, diferente do que pensei tantos anos atrás, quando eu era o espectador e não o orador, é um dos sinais mais notórios de que aquele ser humano que está ali, na frente de vários outros em crescimento, se importa. Só o professor que se importa faz sermão. Difícil é continuar se importando.
Hoje, fico me perguntando se meus professores também viam as várias versões de mim que surgiam a cada nova escolha, a cada novo resultado. Fico me perguntando que comentários minhas alfabetizadoras trocavam entre si, que tipo de marcas deixei nelas, se deixei marcas, se fui um daqueles estudantes que nos marcam involuntariamente, sobre os quais falamos mesmo muito tempo depois de terem deixado de ser nossos alunos. É uma curiosidade aflitiva, especialmente porque eu consigo ter um acesso privilegiado a grande parte das memórias que as pessoas têm da minha infância. Estudei por quase 12 anos, praticamente a vida escolar inteira, no mesmo lugar em que leciono há quase oito. São mais de 20 anos, incluindo aí aqueles de relação apenas como o ex-aluno-de-alto-rendimento-que-encontrava-abrigo-do-bullying-que-nem-tinha-esse-nome-ainda-sendo-”amigo”-de-professores-e-coordenadores-que-visita-a-escola-de-vez-em-quando-como-quem-toma-fôlego-pra-encarar-um-mundo-de-pessoas-e-lugares-estranhos-que-é-a-vida-depois-da-escola.
Ainda hoje sou “ameaçado” pelo meu antigo professor de inglês, hoje colega de trabalho, de vazamento da foto em que estou fantasiado de “índio”. E não de indígena. Não. Era “índio” mesmo. Aquela imagem estereotipada dos povos originários que, no começo dos anos 2000, era não só natural, mas completamente tolerável. Aquela fantasia destinada a um dos dois alunos negros da sala de aula de uma escola particular, os mesmos que, no dia do folclore, recebiam os mesmos papéis. Por alguns anos, eu fui o Saci Pererê que usava cachimbo feito com palito de picolé e uma tampa de garrafa pet grudada em uma das pontas que se recusava a pular em uma perna só.
Deixei o papel de modo dramático, quando minha mãe, atenta ao racismo sem nome da recorrência do papel ou movida justamente por racismo semelhante, aquele que a deixava aborrecida de ver o filho interpretando uma personagem negra, protestou contra minha terceira escalação. Meu substituto, o negro n.º 2, ficou feliz com o protagonismo. Apareceu ao dia alusivo com um cachimbo de verdade na boca, uma toca vermelha bem costurada e pulando com mais habilidade do que o próprio Saci. Ninguém além de nós dois notou, mas aquilo era uma revanche silenciosa, em que ele buscava compensar a irritação de não alcançar minhas notas mostrando que a mãe tinha mais dinheiro ou mais dedicação ou ambos para fantasiá-lo fielmente.
Freud diria que isso pode explicar, anos depois, minha discussão com outro professor de inglês. Este de um curso oferecido pela prefeitura da cidade que montou uma representação de “Alice no país das maravilhas” para a feira cultural. Fui escalado como Absolem, num momento da faculdade em que aquele curso de quatro anos, iniciado no começo do ensino médio, era a única coisa que ainda me prendia à versão de mim mesmo da adolescência escolar. Dividido entre o curso e os vários afazeres do primeiro ano de graduação, não pude comparecer aos ensaios e, no dia do grande evento, usei tão somente um casaco lilás como figurino para meu Absolem. O professor não escondeu a frustração. Nem o aluno de outra turma, que tivera se apresentado no horário anterior ao meu, brilhantemente caracterizado (sério, literalmente brilhante) e deixado de prontidão pelo teacher, para o caso de conseguir me convencer a não representar. O que não conseguiu. Meu Absolem, modéstia à parte, foi tecnicamente impecável.
Freud diria (ou eu mesmo estou dizendo, como destacaria Lacan) que minha convicção por trás do argumento “fantasia minimalista para estimular a abstração do público e trazer foco à minha atuação”, na verdade, me protegia da percepção mais dolorida de que minha mãe, solo e livre com sequelas de uma relação tóxica com meu pai, a quem a justiça da época determinou financiar uma escola particular, um plano de saúde e uma pensão irrisória, não tinha dinheiro suficiente para minha fantasia de Saci Pererê do começo dos anos 2000. Pensando ainda melhor, talvez aí esteja o gatilho inicial para uma série de decisões de decoração minimalista da vida adulta, mas vejo que esse definitivamente é assunto para outra conversa, agora que reli o título do texto, aquele com que sempre começo a escrever por nunca ter conseguido me livrar da obsessão improdutiva de não começar textos sem título.
É que escola cansa todo mundo. Desenterrar os Sacis e os Absolens da minha infância e adolescência é fruto também da minha tentativa de não me esquecer que não sou o único a sentir esse cansaço. A escola é paradoxalmente esse lugar no espaço-tempo pelo qual passamos e do qual podemos levar memórias boas e ruins, lado a lado ou umas frente a outras. Então, quando me lembro dos meus próprios fantasmas, quando os evoco, quando os encaro, penso também nos fantasmas que aquela turma de ensino médio que me observa, enquanto equilibro a tensão e o humor em mais um momento de sermão, carrega. Minha própria vitamina de dor e alegria escolares batida no liquidificador da maturidade é minha estratégia pessoal de não perder de vista a empatia que me aproxima dos donos daqueles olhos treinados para situações behavioristas de sermão.
Existe um laço psicanalítico óbvio entre minha trajetória e a decisão de voltar ao lugar do qual carrego muito mais fantasmas do que boas lembranças (ainda que existam). A escola onde estudei foi também a primeira em que desejei trabalhar pela vontade idealista de construir ou ser zona segura para outros como eu que precisassem disso. Não é exagero dizer que isso esteve (e meio que ainda está) impregnado na minha prática docente até hoje, esse desejo de fazer dos 50 próximos minutos os mais transformadores que eu puder. É, quem sabe, uma resposta petulante aos professores que me olhavam com frustração quando ficavam sabendo de minha opção de curso: “Letras?”, “Licenciatura?”. É uma resposta petulante ao professor de sociologia que tomou como propósito pessoal me convencer a não prestar vestibular para Letras o que, ironicamente, me fez desejar ainda mais estar na faculdade de um curso de licenciatura.
“Só alguém que viverá o que vocês viverão pelos próximos meses pode entender o que é ser aluno da 3ª série do ensino médio. A pessoa que está ao seu lado e que veste um uniforme igual ao seu é a melhor pessoa para fazer parte de sua rede de apoio. Não reprimam os sentimentos, mas também tenham o cuidado de não supervalorizar os momentos de tensão. Mantenham o olhar no horizonte, mas sem se esquecerem de que o presente é o caminho até lá. Tentem relevar as desavenças infantis ou aproveitem cada segundo da vida em que motivos verdadeiramente pequenos importarão, porque a vida adulta transformará toda a lógica que vocês têm de amizade. Os anos letivos virarão semestres universitários; os amigos da escola ficarão cada vez mais ocupados com os trabalhos da faculdade; meus discursos serão uma lembrança bonita e borrada do melhor professor de português que vocês tiveram”, eles riem com os olhos marejados.
Já me perguntei se, olhando para meus alunos, tento, de alguma forma, olhar para mim mesmo, no passado, como quem quer resgatá-lo, protegê-lo. Até hoje não me pareceu o caso. Eu fui o que fui e sei que esse ser foi fundamental para que eu seja quem sou, quem estou me tornado, quem estou sendo, nesse gerúndio filosófico que só quem foi tão longe no texto conseguiu acessar. Eu juro que isso ia ser outra coisa. Eu juro que o primeiro título era mais engajado politicamente, era mais profissional, era mais lógico. Mas o texto também foi sendo, no gerúndio, e eu me tornei professor também para deixar que as coisas e as pessoas sejam o que conseguem ser.
🔖 Uma ideia traz outra…
, em “Dos que falam e dos que calam”.“Entre os indígenas, não havia proibição ao registro, mas sim a crença de que o que você aprende com as coisas escritas não constitui sabedoria real. O verdadeiro conhecimento é passado de vida para a vida; ele só é contido na existência humana.”
, em “Imigração: o silêncio da língua”.“Penso no português com carinho, mas também com um pouco de raiva. É meu refúgio, minha primeira paixão, mas é uma língua que chegou na minha boca por um rastro de sangue”.
, em “Mudança de ventos”.“Ainda por cima, sou de inventar aquelas metas incumpríveis que só servem para frustrar a gente depois — ver um filme por dia, ler um livro por mês, fazer exercício físico ao menos 3x na semana. Tudo bem não dar conta de tudo que a gente se propõe a fazer, mudar de rota no meio do caminho, tenho soprado em silêncio nos meus próprios ouvidos”.
Câmbio, desligo.